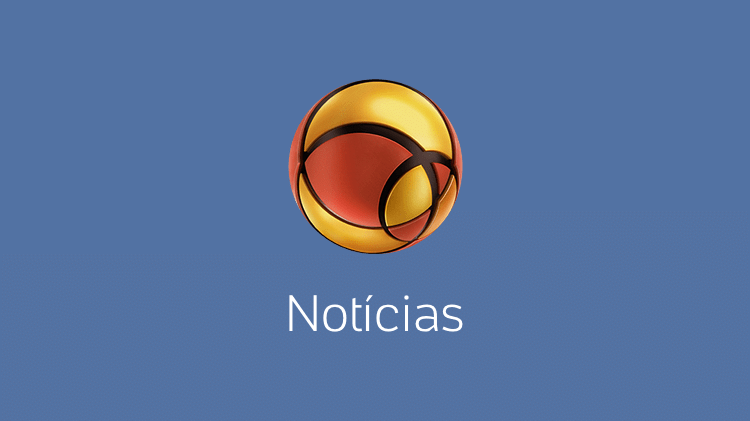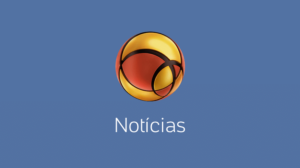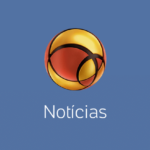Claudia Leitte cometeu “crentewashing” ao substituir o verso “saudando a rainha Iemanjá” por “eu canto meu rei Yeshua”, o nome de Jesus em hebraico, no axé “Caranguejo”?
A cantora fez a permuta religiosa numa apresentação no fim de semana. É reincidente na manobra.
Em 2014, num show que virou DVD, ela fez a mesma mudança na canção composta por parceiros musicais de longa data. A internet e sua memória de elefante recuperaram o trecho em fevereiro deste ano, quando Leitte recebeu as mesmas acusações de agora: a de que foi racista ao promover uma “lavagem” evangélica para a música que saudava uma orixá central para a religiosidade afro-brasileira.
Em 2023, Leitte contou sobre sua conversão evangélica no programa de Faustão na Band. “Eu sou cristã, sou crente, crente mesmo. Fui batizada nas águas em 2012, estou passando por um processo de transformação. Eu descobri que não é assim… Da noite para o dia você se tornou uma belíssima e brilhante criatura.” Como tantos brasileiros, ela havia sido batizada na Igreja Católica na infância.
A intolerância religiosa contra crenças de matriz africana é um passivo de muitas igrejas evangélicas. Em sua amostra mais radical, estimula a vandalização de terreiros e a violência contra pais e mães de santo.
Claro que pouquíssimos crentes vão defender algo criminoso assim, mas o preconceito com religiões de origem afro é viral no segmento. Um livro do bispo Edir Macedo é sintomático dessa cena. Em “Orixás, Caboclos e Guias: Deuses ou Demônios?”, o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus inclui exus no rol de “espíritos malignos sem corpos, ansiando por acharem um meio para se expressarem neste mundo”. A tônica da obra é bem essa.
O deputado e pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ), de insuspeitas credenciais progressistas, falou sobre essa repulsa entranhada nas igrejas evangélicas. Por um tempo ele a sentiu, até compreendê-la como efeito colateral de uma teologia nefasta.
“Tinha 16 anos, um garoto maneiro, apaixonado por Jesus, da paz. Se passasse na frente de uma igreja católica, eu só seguia. Se passasse por uma oferenda, sentia medo, dizia no meu coração: tá repreendido em nome de Jesus. Eu não fazia parte de um grupo nazista, não era um adolescente perverso, mas fui formado numa teologia que me fez achar que aquela experiência religiosa era contra mim. Com religiões de matriz afro, tudo ganha essa caracterização de exótico, primitivo, do mal”, disse em entrevista à Folha, no ano passado.
Ao suprimir a saudação a Iemanjá em seu show, Leitte alimentou essa mesma cultura do ódio contra os terreiros, segundo Zulu Araújo, mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia e conselheiro do Olodum.
Importante frisar: “Todo e qualquer cidadão brasileiro tem o direito de professar a religião que bem desejar”. Se Claudinha quiser ser evangélica, bom pra ela. E se ao se converter “isso lhe provoca limitações”, como um desconforto com uma música que não mais espelhe suas convicções religiosas, “é simples”, diz Araújo. “Não cante.”
Ele aponta que o ritmo que projetou Leitte para o estrelato “é fruto de uma tradição musical de origem africana”. Axé, por sinal, é um termo iorubá para energia. “Não há como impedir que mitos e símbolos religiosos estejam presentes nas letras.”
O secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, comprou briga com a conterrânea. Não citou nomes, mas o recado era claro. Escreveu no Instagram sobre o protagonismo de cantores brancos num gênero musical de raiz negra e emendou: “Quando um artista se diz parte desse movimento, saúda o povo negro e sua cultura, reverencia sua repercussão e musicalidade, faz sucesso e ganha muito dinheiro com isso, mas, de repente, escolhe reescrever a história e retirar o nome de orixás das músicas, não se engane: o nome disso é racismo”.
Leitte não inova ao readequar seu repertório por motivos religiosos. Tivemos Tim Maia e sua fase Cultura Racional. Ou Joelma omitindo o verso “um copo sobre a mesa de Quijá, bola de cristal e cartas de baralho”, esotérico demais para seu novo paladar evangélico, na canção “Príncipe Encantado”.
O católico Roberto Carlos misturou fé, superstição e TOC ao deixar de cantar por anos “Quero que Tudo Vá pro Inferno”, por causa da palavra diabólica. Em 2004, um encontro com jornalistas promovido por sua gravadora chegou a tocar a música banida, mas trocando o refrão infernal pela voz de Cid Moreira recitando um salmo bíblico.
Caetano Veloso incluiu um gospel em sua turnê com Maria Bethânia, uma forma de “expor o interesse que me despertam as igrejas evangélicas do Brasil”, segundo o próprio. Certo está em não desmerecer esse movimento tectônico na placa religiosa nacional, muito mais plural do que a caricatura de crente que se pinta nos arredores seculares.
Em 2013, o sociólogo Reginaldo Prandi publicou no jornal um artigo sobre o avanço do pentecostalismo. Ali, condensava alguns medos que essa ideia provocava no entorno social. Alguns soavam hiperbólicos.
“O avanço acelerado das igrejas evangélicas anuncia para breve um Brasil de maioria religiosa evangélica. Se isso vier a acontecer, o país se tornará também culturalmente evangélico? Traços católicos e afro-brasileiros serão apagados, assim como festas profanas malvistas pela nova religião predominante? Deixarão de existir o Carnaval, as festas juninas, o famoso São João do Nordeste? Rios, serras, cidades, ruas, escolas, hospitais, indústrias, lojas terão seus nomes católicos trocados? A cidade de São Paulo voltará a se chamar Piratininga? E mais, mudarão os valores que orientam a vida por aqui?”
Mais de uma década se passou desde a publicação do texto. O Carnaval não deixou de existir, nem nada disso acima, mas vimos algumas inflexões sociais nesse meio-tempo.
Ao sentir necessidade de remover símbolos da fé afro-brasileira de sua música, Claudia Leitte escancara como “os valores que orientam a vida por aqui” vão se reacomodando num Brasil cada vez mais evangélico.