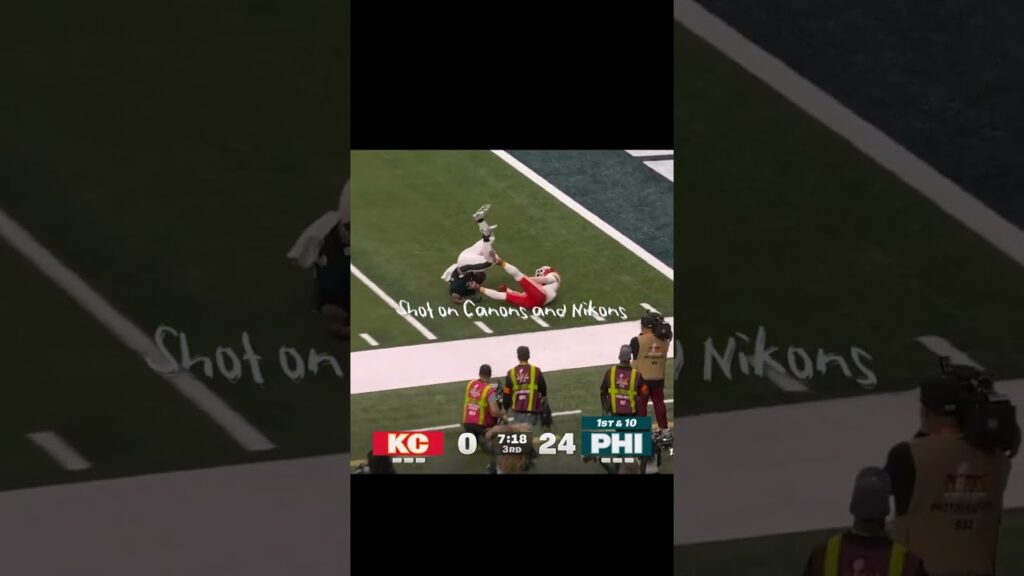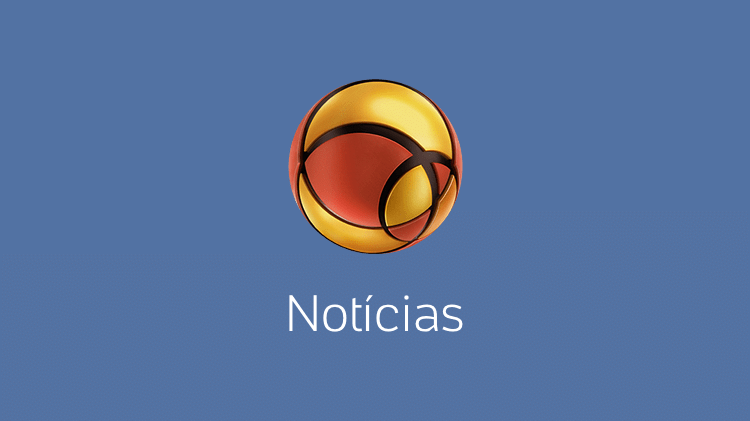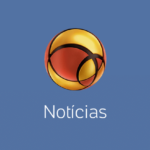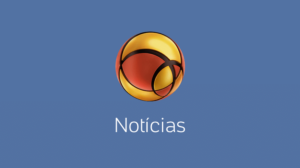No Carnaval, adquiri o hábito de trocar o corpo a corpo suado das ruas por uns dias de paz e descanso, quase sempre na companhia de livros e filmes. Não estou sozinho.
Às vezes, revisitando histórias, penso no muito que a nossa literatura já fez dessa festa tão brasileira. Se pouco se fala disso, acredito, é porque faltam os vistosos grandes romances de Carnaval.
Pois é: loucura efêmera, descontínua, os ritmos febris e o tempo fora do tempo dessa festa popular são mais bem captados pelo conto. Que, como se sabe, carrega a injusta sina de ser menos visível.
Só isso explica que “O Bebê de Tarlatana Rosa”, obra-prima de terror de João do Rio, não seja exaltado por influencers como um monumento literário:
“Eu estava trepidante, com uma ânsia de acanalhar-me, quase mórbida. Nada de raparigas do galarim perfumadas e por demais conhecidas, nada do contato familiar, mas o deboche anônimo, o deboche ritual de chegar, pegar, acabar, continuar. Era ignóbil. Felizmente muita gente sofre do mesmo mal no Carnaval”.
Se houvesse justiça no mundo, a crônica-reportagem “Batalha no Largo do Machado”, de Rubem Braga, seria estudada em cursos de pós-graduação como exemplo de prosa-batucada:
“A cuíca ronca, ronca, estomacal, horrível, é um ronco que é um soluço, e eu também soluço e canto, e vós também fortemente cantais bem desentoados com este mundo. A cuíca ronca no fundo da massa escura, dos agarramentos suados, do batuque pesadão, do bodum”.
Aqui e ali nossos clássicos dão sinais de envelhecimento —rugas sob a máscara, mofo no confete. Certas palavras de Braga, como também de Aníbal Machado em “A Morte da Porta-estandarte”, já não se usariam hoje.
O racismo brasileiro era mais difuso e inconsciente no século passado. Machismo e misoginia também. Metade dos contos carnavalescos é protagonizada por homens a quem o delírio coletivo interessa na medida em que facilita a tarefa de fazer sexo com mulheres normalmente interditadas.
“Era o último dia de carnaval e todo carnaval eu sempre fora com uma mulher diferente para a cama. Já na terça-feira, mais um pouco o carnaval acabava e eu não teria mantido a tradição”, diz o narrador de “Teoria do Consumo Conspícuo”, de Rubem Fonseca.
Spoiler: não dá certo dessa vez. Em compensação, o Adamastor de “O Homem-mulher”, de Sérgio Sant’Anna, vive momentos de grande felicidade no cemitério, depois de se desgarrar do bloco com Dalva –que, virgem até então, tem só 16 anos, nove a menos que ele.
Acontece —em dias como os que vêm por aí, acontece demais. Como acontece também o imenso zero a zero existencial, quase metafísico, de “Bandeira Branca”, de Luis Fernando Verissimo.
Ainda bem que mulheres também escrevem sobre Carnaval e cada vez mais o farão, diversificando a cozinha rítmica da festa.
“Um menino de uns 12 anos, o que para mim significava um rapaz, esse menino muito bonito parou diante de mim e, numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu meus cabelos já lisos de confete”, conta Clarice Lispector em “Restos do Carnaval”.
O desejo está sempre lá, é claro. Mas as máscaras são infinitas.
Colunas e Blogs
Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha
LINK PRESENTE: Gostou deste texto? Assinante pode liberar sete acessos gratuitos de qualquer link por dia. Basta clicar no F azul abaixo.