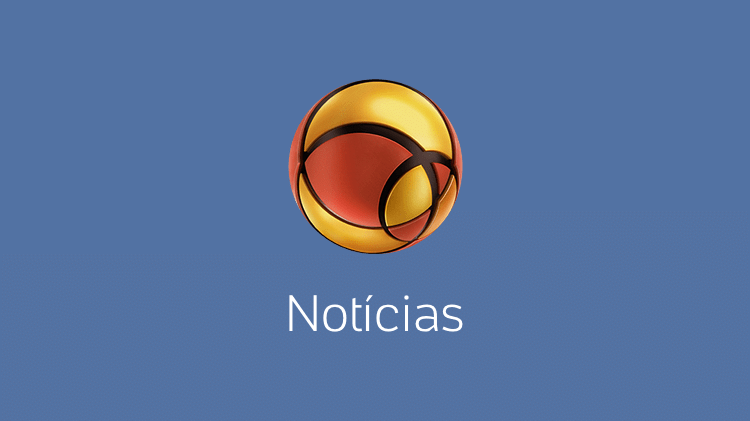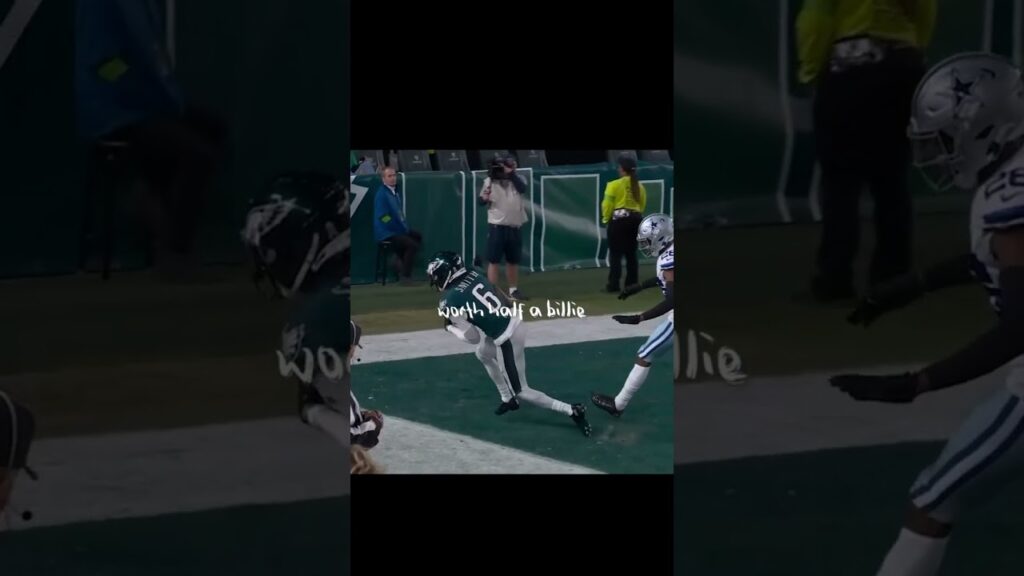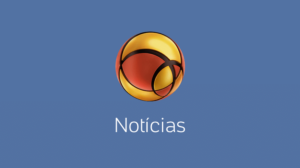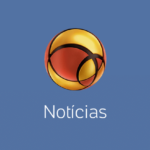Dois grandes poetas de língua inglesa do século 20 avaliaram um terceiro, de reputação duvidosa, do 19. “Espera-se que a poesia seja algo muito concentrado, algo destilado; mas se Byron tivesse destilado seus versos não sobraria nada”, escreveu T.S. Eliot. Com o senso de humor de um freezer, tenta fazer graça: Byron parecia “um estrangeiro escrevendo em inglês”.
Já W.H. Auden explicou que a poesia cômica era escassa na Inglaterra até 1800, e a literatura seria pobre se um punhado de bardos não a criasse —”e Byron foi de longe o maior deles”. E ainda: “‘Don Juan’ é o mais original dos poemas ingleses; nada parecido foi escrito antes”.
George Gordon, Lord Byron, morreu há dois séculos, aos 36 anos. Era o homem mais conhecido no mundo depois de Napoleão, a primeira celebridade de alcance planetário, o único poeta a ser best-seller: “O Corsário” vendeu 10 mil exemplares no dia em que saiu, em 1814.
Mas há uns cem anos ninguém o lê. Porque Eliot estava certo: sua poesia era, no mais das vezes, prosa versificada; posava de profundo, mas tinha um quê de postiço; venerava a musa romântica da espontaneidade, e por isso publicava todas as tolices que rabiscava; embrulhava lugares-comuns em papel poético para presente.
Há também a questão de fundo: a poesia saiu de moda. Quem ainda a lê opta por poemas curtos, tristonhos e densos que autopsiam emoções tidas por autênticas. Mas, como bem notou Auden, sua obra-ápice, “Don Juan”, é um deboche frívolo de 16 mil versos de escancarado artificialismo; sardônicas estrofes de oito linhas rimadas e ritmadas.
Por tudo isso, é com cuidado que se retorna ao Byron dos bancos escolares. Mas —evoé, Momo!— logo se constata que não se trata de um autor canônico cuja obra comatosa é de bom tom conhecer, mas só de orelhada. Ela está longe de ser farelo para ruminações acadêmicas; registra alegrias e agonias que não ficaram para trás, embrenham-se no presente.
Esse Byron forte trepida numa antologia antológica, traduzida e apresentada por André Vallias, poeta e artista gráfico paulistano. A suntuosa coletânea, “Byron – Poemas, Cartas, Diários &c.” (Perspectiva, 640 págs.), traz os originais e traduções dos poemas.
A primeira virtude do livro é estimar mais a obra que a vida do escritor —o que, em se tratando de Byron, não é nem um pouco óbvio. O pouco que vários sabem dele é biográfico: herdou o título de barão (ficou milionário aos 10 anos); era bissexual (apreciava efebos); mesmo manco, nadava como um peixe (atravessou o Tejo e o Helesponto); teria transado com 200 mulheres em um ano (inclusive com a meia-irmã); foi um patriota sem pátria (repudiou a Inglaterra e lutou pela independência da Grécia).
À vida colorida acrescente-se a reputação de atormentado, perdulário e vítima do “mal du siècle”, o tédio. Por mais que escrevesse cartas esclarecendo que era eufórico e entusiasmado, a Europa preferiu o ícone romântico ao homem complexo; a sorumbática “Peregrinação do Infante Harold” ao bem-humorado horror à hipocrisia de “Don Juan“.
No Brasil, sua imagem degringolou de vez. Por culpa do jardineiro que achou no seu castelo uma caveira, a qual o inspirou a cometer “Versos Inscritos num Cálice Feito de um Crânio”.
Os versos alvoroçaram Álvares de Azevedo, Fagundes Varella e Castro Alves, que os traduziu. Com isso, Byron tornou-se aqui um zumbi quase tão macabro quanto Temer, a passear sua palidez por cemitérios, orgias satânicas e rituais de magia negra.
Onédia Barboza escreveu um livro sobre o Byron brasileiro. Ao analisar o que Castro Alves fez com “Cálice Feito de um Crânio”, acertou na testa: “Difícil determinar qual dos dois é pior, o original ou a tradução”. Ou melhor: acertou no crânio.
O auge da antologia é “Darkness”, vertido para “Breu”. Em 15 de abril de 1815, um vulcão indonésio, o Monte Tambora, entrou em ebulição e matou 70 mil pessoas. Nuvens de cinzas vagaram pelo céu, obscureceram o Sol e resfriaram a Terra naquele que foi chamado de “o ano sem verão”.
Vallias traduziu “Darkness” no ano passado, quando queimadas devastavam o pantanal e névoas de fuligem ofuscavam o Sol. Seu “Breu” está empapado de imagens apocalíptico-pantaneiras, de um inferno “desprovido de estações, sem árvores/ sem plantas, sem pessoas e sem vida”.
O título da tradução, por fim, é “Breu” porque a palavra começa com “Br”, sigla de Brasil. É assim que Byron ressuscita –para falar de morte num país em que “jogam óleo em suas piras funerais”.
Colunas e Blogs
Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha
LINK PRESENTE: Gostou deste texto? Assinante pode liberar sete acessos gratuitos de qualquer link por dia. Basta clicar no F azul abaixo.